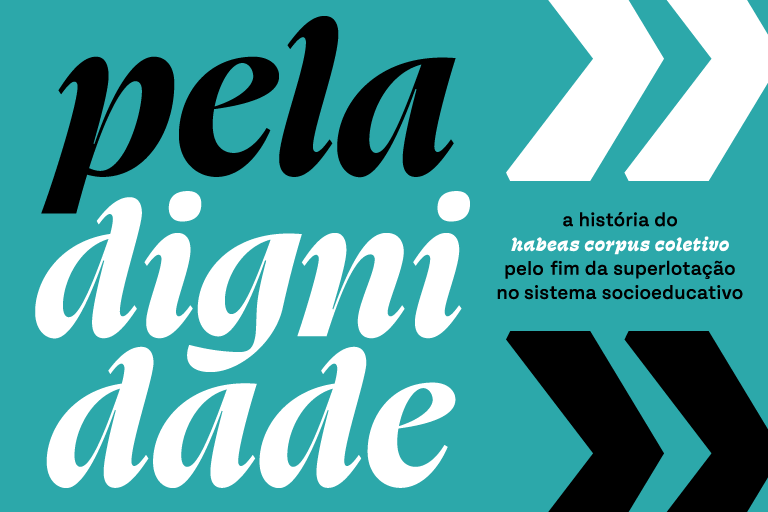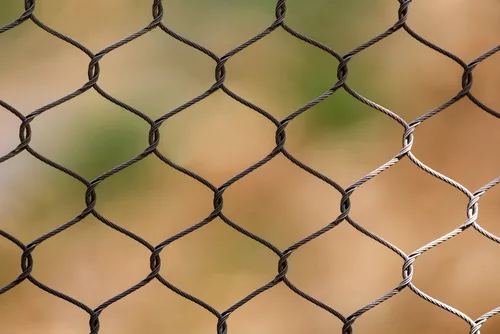A crise climática é uma crise dos direitos das crianças; por isso, o Instituto Alana participa de ações no STF para garantir, no presente, um futuro para todas as infâncias do país, e para a própria natureza
Nos últimos anos, o Brasil tem visto as queimadas e o desmatamento aumentarem em ritmo acelerado e avançarem sobre vários biomas. Enquanto os órgãos de fiscalização, responsáveis por frear e prevenir esses problemas, sofrem um verdadeiro desmonte, fundos para financiar programas de preservação são paralisados. Esse contexto tem levado o país a judicializar cada vez mais a crise climática. Ou seja, tanto partidos políticos quanto organizações da sociedade civil têm entrado com processos no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar conter os retrocessos na pauta ambiental e proteger a natureza e as infâncias.
– Veja também: As infâncias entre telas e natureza
Em 2022, o STF recebeu sete ações relacionadas à garantia de medidas de preservação socioambiental, no chamado “pacote verde”. O Instituto Alana participou de três dessas ações como amicus curiae (amigo da corte), com a função de fornecer subsídios ao órgão julgador. E levou a voz das crianças, que são parte interessada por integrar um dos grupos mais vulneráveis aos efeitos da emergência climática, aos autos do processo.
“Nesses mais de 400 desenhos e cartas que entregamos às vossas excelências, senhores ministros, as crianças são unânimes em pedir que a natureza seja cuidada e preservada. Para nós, do Alana, proteger a natureza é cuidar das crianças brasileiras com absoluta prioridade”, disse durante sua sustentação oral a advogada Angela Barbarulo, que coordenou o eixo de Justiça Climática e Socioambiental do programa Criança e Natureza, do Instituto Alana.
– Leia também: Crianças dizem aos ministros do STF: deem uma chance para a Amazônia!
Não é usual que a mais alta corte do país paute tantas ações sobre o mesmo tema em uma única sessão, mas a gravidade do momento o exige. A taxa de desmatamento na Amazônia subiu 73% de 2019 a 2021, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do Governo Federal. O desmatamento e as queimadas se intensificaram, aumentando a poluição do ar e a desestabilização do clima.
Segundo pesquisa do Ibope, 77% dos brasileiros acreditam que a proteção à Amazônia deve ser prioridade. Ao pautar ações ligadas ao meio ambiente, o STF demonstra estar conectado com os anseios da população do país, e torna-se uma instituição essencial para frear omissões e pressionar governos a protegerem nosso meio ambiente.
– Leia também: A crise é do clima? Ou é nossa?
Reaver recursos do Fundo Amazônia e do Fundo Clima
Um dos processos pautados pelo STF trata sobre investimentos em defesa da Amazônia. Uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão — a ADO 59 — foi interposta em razão de o governo federal ter paralisado as atividades e deixado de disponibilizar os R$1,5 bilhões disponíveis no Fundo Amazônia, voltados para financiar projetos de preservação na Amazônia Legal.
O governo brasileiro tem feito alterações no formato do fundo desde 2019, extinguindo os comitês técnico e orientador e impedindo sua atuação em novos projetos. Diante disso, a ministra Rosa Weber propôs que a União reative o Fundo Amazônia e não faça novas paralisações. A questão foi analisada este mês pelos demais membros da Corte e, por 10 votos a 1, os ministros determinaram a retomada do fundo em até 60 dias.
Dentre as ações do pacote verde do STF, estava também a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 708, que tratou da não alocação de recursos pelo governo federal, desde 2019, para o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima). Em julho deste ano, a maioria dos ministros do STF proibiu o contingenciamento das receitas do fundo e determinou que a União adote as providências necessárias ao seu funcionamento, com a consequente destinação de recursos.
Desmatamento e desmonte da fiscalização
O desmatamento também foi levado para julgamento na Corte. Sete partidos políticos e dez entidades da sociedade civil — entre as quais, o Instituto Alana — ingressaram, em 2020, com a ADPF 760 para pedir na Justiça a retomada do cumprimento de metas estabelecidas pela legislação nacional e acordos internacionais assumidos pelo Brasil sobre mudanças climáticas.
Relatora da ação, a ministra Cármen Lúcia votou para que o STF determine às autoridades brasileiras a apresentação de um plano com metas, ações e dotação orçamentária para retomar atividades de controle e fiscalização ambiental, bem como o combate de crimes na Amazônia, resguardando os direitos dos povos indígenas. Mas o julgamento sobre a matéria foi suspenso por um pedido de vista do ministro André Mendonça.
Os padrões da qualidade do ar que respiramos
A ADI 6148 também foi pautada pelo STF. A ação contesta a Resolução Conama 491, de 2018, que estabelece padrões de qualidade do ar. Segundo o processo, essa resolução não regulamenta de forma eficaz e adequada tais padrões, sendo “vaga e permissiva” e deixando desprotegidos os direitos fundamentais à informação ambiental, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à saúde e, consequentemente, à vida.
O STF não reconheceu a inconstitucionalidade da resolução, mas determinou que o Conama atualize a norma para que ela passe a ter “suficiente capacidade protetiva da qualidade do ar” em até dois anos. Caso não seja feita essa atualização, o país deverá considerar os padrões de qualidade do ar adotados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
O Instituto Alana, por meio do programa Criança e Natureza, atuou como amicus curiae na ADPF 760, ADO 59 e ADI 6148.
– Leia também: As crianças e a natureza nas mãos da Justiça
Brasil também judicializou a crise do pantanal
A crise climática vem provocando desequilíbrios também ao Pantanal, uma área de 150 mil quilômetros quadrados entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, que abriga a maior planície inundável do planeta e representa um complexo com grande biodiversidade. Alvo de incêndios e queimadas, o Pantanal também viu sua própria crise ser levada à Justiça.
Na ADPF 857, quatro partidos políticos pedem um plano e ações para impedir que os incêndios que ocorreram no Pantanal, em 2020, voltem a repetir-se de forma agravada. Eles sustentam que o fogo, além de colocar em risco uma quantidade significativa de espécies de animais silvestres, avançou sobre terras indígenas e provocou imensos prejuízos econômicos, sociais e de saúde pública para esses povos. A situação, segundo argumentam, viola diversos princípios constitucionais.
Há outros processos com objetivo semelhante no STF. As ADPF 743 e 746 também foram impetradas para obrigar o governo federal a cumprir medidas contra o avanço e os efeitos das queimadas que atingem a Amazônia e o Pantanal.
Saúde indígena na pandemia levada à Justiça
Diante da falta de resposta das instituições brasileiras e do avanço da pandemia de covid-19 no país, a necessidade de ações para proteger os povos originários também foi judicializada. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) se juntou a partidos políticos e entidades da sociedade civil e impetrou, no STF, a ADPF 709 com o objetivo de combater a omissão do governo federal no combate à pandemia e cobrar medidas para proteger diversas etnias. A ação pedia, por exemplo, a instalação de barreiras sanitárias em territórios onde vivem povos isolados ou de recente contato, a fim de protegê-los.
– Veja também: Natureza é saúde na infância
Proteger o meio ambiente é proteger o futuro das crianças
A má gestão socioambiental e climática no Brasil tem exigido ações contundentes da Justiça, especialmente para garantir a proteção de direitos dos mais vulneráveis. Neste grupo estão as crianças e os adolescentes, que sofrem de forma ampliada os efeitos da mudança climática.
A análise de tais ações pelo Supremo deve obrigatoriamente se basear nos direitos das crianças e dos adolescentes previstos no artigo 227 da Constituição, que assegura seu melhor interesse e a absoluta prioridade de seus direitos fundamentais, e também no artigo 225, que atribui o direito ao meio ambiente equilibrado o status de direito fundamental. Na prática, isso significa partir de uma visão de direitos humanos pautada na justiça, no respeito à vida humana e também à não humana, bem como na solidariedade intergeracional.
“Proteger a natureza é cuidar das crianças brasileiras, um dever constitucional, uma regra jurídica, imposta a todos nós — famílias, sociedade, empresas e Estado —, e, para isso, o princípio da equidade intergeracional deve ser colocado no centro do debate quando pensamos no nosso futuro comum”, disse Angela Barbarulo.
– Leia também: Alana leva a realidade das infâncias frente à emergência climática para a COP 27